Na perspectiva das mídias tradicionais, o que é o sexismo?
22 de novembro de 2013 Processocom
Há alguns dias, uma amiga estava escrevendo sobre o policiamento das condutas sexuais e veio me perguntar se o machismo, como termo, já caiu em desuso por ser frequentemente substituído pelo conceito de sexismo. Respondi que não. E me explico: essas duas palavras pertencem ao mesmo campo semântico, visto que o machismo é uma natureza de sexismo e isso o torna hiperônimo do sexismo. Nesse sentido, uma pode ser usada no lugar da outra, principalmente para evitar frases desgastantes e repetitivas, mas não como um “sinônimo” de utilização que substitua, definitivamente, a do outro termo.
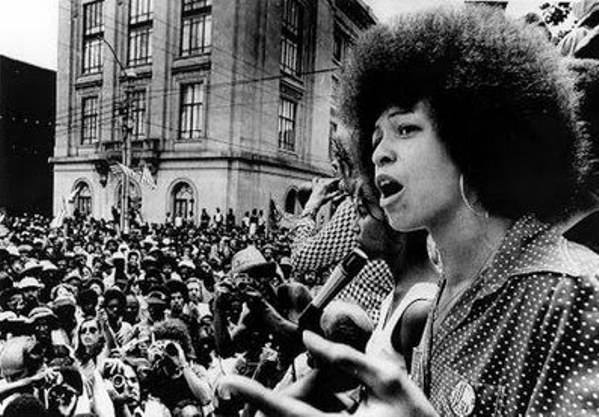
Mesmo assim a questão não se esgotou, pelo menos pra mim, porque logo me lembrei de situações parecidas. Certa vez, um colega do jornalismo me disse que havia produzido uma reportagem sobre homens transgêneros. Mesmo tendo somente convivido com mulheres lésbicas, o que poderia ser um impasse para fazê-lo entender que ser lésbica e se construir no gênero masculino são fenômenos distintos, o autor percebeu que o preconceito que atinge esse grupo não resultava da homofobia, mas sim da transfobia.
Pois bem: o editor devolveu esse texto pedindo alterações, com palavras marcadas em amarelo. Entre elas, estava assinalado justamente o cissexismo, que foi citado pelo jornalista como um fenômeno social presente na transfobia à medida em que, embora sejam aceitos como homens, os transgêneros ainda são julgados menos homens – ou “homens de um jeito errado”, nas palavras das entrevistadas – e isso faz essas mulheres e várias outras negarem qualquer tentativa de se explicar que continuariam sendo heterossexuais ao se relacionarem com um homem trans. Nesse sentido, o cissexismo é uma predominância sociocultural do indivíduo cisgênero, ou seja, da pessoa cujo gênero é construído em dependência do seu sexo biológico, muitas vezes como se não existisse o direito individual ao gênero, mas sim um “gênero pré-discursivo”. Esse era um dos vários pontos explorados na reportagem.
A discussão de ambos logo os fez falar sobre outra, tida na mesma redação em um contexto anterior, na qual determinaram o sexismo como palavra que, a partir de então, seria usada para substituir definitivamente o machismo, já que, na perspectiva midiática, mencioná-lo seria não só remeter o público a uma espécie de “polêmica feminista desnecessária” como também se esquecer de que existem ideias e práticas sexistas prejudicando aos homens e não só às mulheres.
Pensando por essa mesma lógica, por exemplo, a frente masculinista – entre as suas pautas principais – defende: a) a obrigatoriedade do serviço militar feminino, quando tal atividade deveria ser, em verdade, apenas uma opção de carreira; b) uma maior ocupação masculina de cargos socialmente delegados à mulher, entre eles o de pedagoga, por exemplo, sendo essa distribuição dos papeis, lugares e funções sociais, também, um projeto patriarcal; c) a desconsideração da mulher como escolha preferencial para a guarda dos filhos – quando o campo jurídico e o serviço social seguem tal premissa levando em conta que, por questões culturais, menores tutelados por uma das partes após o divórcio quase sempre são melhor assistidos por suas mães. E a discussão vai se estendendo.
No mais, houve um consenso. E a redação deixou de usar o machismo como termo possível assim como muitas preferem chamar as Paradas LGBTs de “Paradas da Liberdade”. Isso elas não deixam de ser, mas parece haver uma tentativa de tornar o movimento mais palatável, não “descreditando” também o tradicionalismo midiático em função dessa sigla. Isso pode ser percebido ainda na ideia de que deveríamos ter um dia para a “consciência humana”, no lugar da negra, porque a troca parece mais “justa”. Fica mesmo mais justo compartimentar toda essa diversidade das formas de conhecimento que advêm do preconceito em apenas uma corrente de pensamento?
Essa ideia reduz a importância dos movimentos sociais porque dissolve as especificidades, demandas e lutas suas em debates genéricos, que colocam o discurso da empatia universal acima das pautas dos movimentos negros, LGBTs e inclusive feministas. Isso impede que a sociedade civil compreenda, questione e transforme essas formas de conhecimento que o machismo, a transfobia, a misoginia, a homofobia e o racismo produziram como um trajeto necessário de conhecermos o “todo” em seus diversos contextos, fenômenos e dimensões para enfim chegarmos à “consciência humana”. Porque divulgar a ideia do “humano global” sem antes explicar as várias formas – grandes e pequenas – de reduzir a cidadania do outro apenas elimina as formas mais visíveis de preconceito, deixando que as demais continuem dinâmicas em nossas interações sociais. Aliás, isso já acontece há muito tempo.
No mesmo sentido do discurso conscientizador “mágico” é que se centralizam, também, as substituições midiáticas – mas não apenas elas – do machismo pelo sexismo. Na explicação sociolinguística, ambas as palavras não são sinonímias porque um fenômeno, o machismo, está dentro do outro. E substituir um termo pelo outro exige que, quando seja mencionado o sexismo, também seja trabalhado com alguma profundidade o seu conjunto de sentidos: quais são as ações e ideias? Quais seriam as consequências imediatas ou não delas? A quem estão prejudicando e/ou privilegiando? Quais papeis e lugares sociais de gênero são postos em dúvida, caricatura, estereotipia ou outras formas de detrimento? Que identidades e/ou performances de gênero estão sendo trabalhadas? Como elas foram enquadradas?
Ainda que esses ângulos sejam muitos, o esquema da narrativa jornalística permite que boa parte dos textos percorra, até pelos aspectos mais gerais, todos esses elementos nos casos de crimes motivados por machismo, por exemplo. Nesse caso não se faria tão necessária a especificação de qual sexismo se está falando, mas isso é bem raro. Em geral, os conteúdos midiáticos tendem a olhar para esse sexismo de passagem, sem nem mesmo indicar algum ponto não abordado por eles que mereça uma reflexão posterior dos sujeitos.
Essa ideia de que o sexismo como termo substitui o machismo pressupõe que também há, no Brasil especialmente, tanto o machismo quanto o “femismo”. Jornalistas como Reinaldo Azevedo e alguns outros atores midiáticos apontam que a conduta femista tem construído, em onda política e até mesmo cultural, um ódio feminino contra os homens – chamado de “misandria”. Em termos gerais, “femismo” e “misandria” são tratados como mitos porque a cultura ocidental, assim como a oriental, não foi construída a partir deles, nem se sustenta através deles e tampouco favorece a sua reiteração coletiva, sendo formada a partir de uma epistemologia machista de lógicas diversas, com exceção das culturas matrilineares raríssimas que existem/existiram no mundo. A essas o campo antropológico atribui o conceito de “matrilinearidade” porque não funcionam como um patriarcado, onde o machismo e a misoginia são fenômenos sociais comuns.
E também há de se pensar que tomadas radicais de posição entre mulheres, por certamente não serem constituídas no interior do patriarcado, partem muito mais de reações resultadas do próprio poder a que elas e/ou outras foram, são e serão submetidas. Por isso, substituir machismo por sexismo é um perigo: porque abandonar o uso do termo para reduzir a carga que essa palavra apresenta como uma estratégia para agradar aos que não fazem parte dos movimentos feministas e questionam sua legitimidade, em geral, significa não reconhecer que o machismo construiu nossa cultura. E deixar de mencioná-lo não o elimina.
